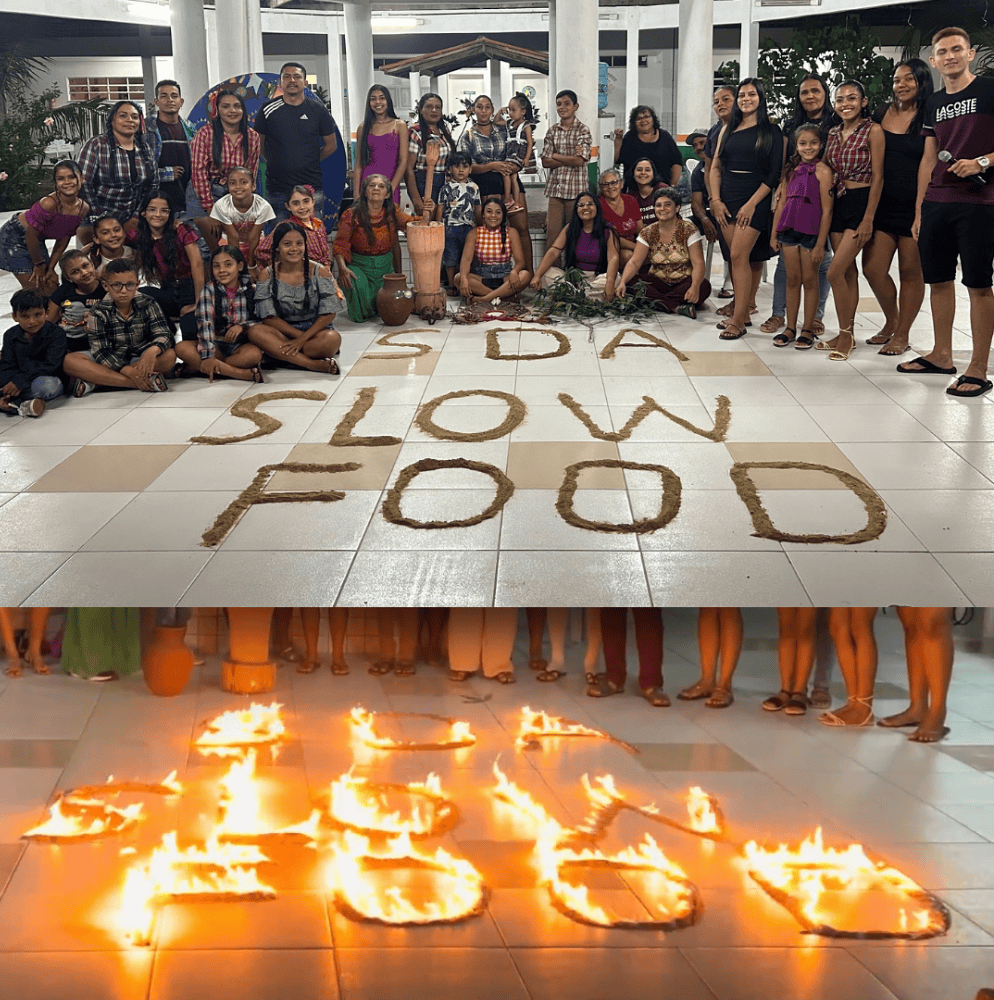Uma das tantas derivações do milho, com proveito não só da espiga, mas também das palhas, é a pamonha. A massa extraída e temperada volta para seu embrulho de origem, onde é cozida quando mergulhada em água fervente. Em Goiás, associada à vida no campo, ou melhor, na roça, sua produção é por vezes justificada por celebrações – feriados, aniversários, chegada ou despedida de alguém. Mas, muitas vezes, o desejo de comer pamonha é mesmo o motivo para que reuniões familiares aconteçam. Em geral, a parentada toda é convidada para esse evento especial: a pamonhada. Aqui o milho é o protagonista, quase ritualisticamente preparado e transformado. A produção da pamonha, abarcando muitos processos, pode durar um dia todo, principalmente se houver a colheita do milho a ser feita. Não havendo plantação, ele é buscado na cidade mais próxima, em grande quantidade, medida pelo que chamam de mão ou balaio (essa forma mais falada na roça). Uma mão de mi é referente a sessenta espigas de milho, o mesmo que no balaio.
Essa prática não se restringe, no entanto, à vida na roça, estendendo-se e adaptando-se ao contexto urbano goiano, reconfigurando características do processo, como origem e fonte de ingredientes, divisão de tarefas ou mesmo exclusão de algumas delas. São muitas as opções de consumo de pamonha, podendo ser facilmente comprada pronta, em pamonharias, supermercados, feiras ou carro que passa pelos bairros anunciando os sabores e preços, o carro da pamonha, de aspecto improvisado e de presença rotineira, anunciando de longe “OLHA A PAMONHA…”, chamada que chega entre vinhetas criativas.

Se o objetivo é fazer pamonha, também são muitas as alternativas. Milho com palha, milho sem palha e palhas selecionadas separadamente, ou a massa extraída sem tempero. Irá depender da quantidade pretendida, do tempo disponível e da disposição de quem faz. A pamonhada remete, geralmente, a grandes quantidades e muita gente pra comer, ou seja, muita gente pra ajudar. O milho no seu estado mais bruto implica menos custos se comprado em grande quantidade, a preferência pelo sem palha é mais presente quando há menos pessoas reunidas. Já a escolha da massa pronta não se encaixa no espírito do evento, estaria mais para uma refeição familiar mais restrita. Esse amplo espectro de possibilidades para preparar e comer pamonha revela sua relevância na cultura culinária goiana, assim como em outras regiões brasileiras, especialmente no centro-oeste. De origem indígena, a pamonha (no tupi, pa’muñã) se revela um prato emblemático presente em diversas localidades, cada uma com suas particularidades no fazer e comer. Podem ter diferentes temperos, acompanhamentos, recheios, ou mesmo formas de preparo e de organização do trabalho.
Irei me restringir aqui ao contexto goiano, por puro e simples motivo de pertencimento e conhecimento. Depois de vinte e um anos de realidade goiana, já naturalizada no meu ser, me deparei com outra cultura bastante diferente. No extremo sul do Brasil, em Pelotas, para onde me mudei por motivos de estudo, tenho um delongado primeiro contato com o outro, que me permite evidenciar aspectos de minha própria bagagem cultural. Daí a iniciativa de escrever sobre a prática da pamonhada a partir de um lugar distante, onde, mesmo que também no Brasil, não se encontra pamonha em lugar algum.

Trago, dessa forma, o olhar de alguém “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002) em relação à cultura que está sendo pensada. Por meio de distanciamento ou exotização do olhar, intensificado pelo distanciamento físico, me proponho a descrever e analisar esse costume, que vem a se constituir tanto no âmbito rural quanto no urbano, admitindo uma dinâmica de troca, simbólica e material, entre esses universos, e de adaptação às delimitações do meio em questão. Além de minha experiência pessoal em pamonhadas (mais na cidade que na roça), me fundamento em conversas e entrevistas informais com familiares, conhecidos, conhecidos de conhecidos, alguns moradores de Goiânia (capital), outras moradoras do campo, em Pirinópolis e Iporá. Por tratar de um universo do qual já fazia parte, a interlocução realizada se apoia numa rede de relações já existente na minha trajetória. Não me proponho, portanto, a generalizar minhas observações a toda extensão de Goiás. O costume pode assumir outras formas e detalhes particulares a diferentes linhagens de famílias.
O fazer de uma pamonhada na roça
Depois de colhido ou comprado o milho, é preciso descascá-lo e limpá-lo. São despejados aos montes no chão e cercados por aqueles que vão ajudar. Quanto mais gente, mais rápido. Homens e mulheres, crianças e jovens, primas e primos também não escapam. Algum homem se encarrega do facão (geralmente o dono dele, o dono da casa) para cortar as cabeças das espigas, os demais descascam, selecionando as palhas que vão ser usadas e tirando os cabelos. Aqueles mais dificultosos de serem retirados com a mão passam, em seguida, pela escova. Millene (24 anos, mora em Goiânia e frequenta a roça), sobrinha de Joana Darc (moradora rural de Iporá), recorda a prática de apoiar as palhas escolhidas na perna, sendo depois de um tanto jogadas na bacia, hábito que se revelou particular a sua família.

Com um bocado de milho limpo, uma mulher, geralmente a dona da casa, começa a ralar. Se houver mais raladores (dos grandes), outras mulheres, irmãs ou cunhadas, ou homens, se incumbem da tarefa, podendo ser substituídos depois de um tempo. Outras/os seguem rapando o milho ralado com uma colher (de sopa). Aqui o rapar pode, eventualmente, ser feito por uma criança interessada em participar, para que aprenda. Os descascadores terminam primeiro, amontoam tudo que restou: as palhas descartadas, pedaços de espigas, os cabelos e os corós do milho. As raladoras e rapadoras (elas em sua maioria), seguem se revezando nas tarefas, já que a prática de ralar, totalmente braçal, é bastante cansativa. Por essa razão atualmente podemos encontrar mais frequentemente o uso de raladores elétricos na roça, evidenciando movimento de incorporação de tecnologia também no universo rural.
Extraída a massa, ela é preparada por uma ou duas mulheres com a mão boa para temperar, ou necessariamente pela dona da casa. Enquanto ainda se prepara a massa, um caldeirão com água é colocado para ferver ao fogão, à lenha de preferência. Na ausência do caldeirão, ou se não for suficiente, é comum utilizar antigos latões de tinta.

No preparo da massa, Darc me surpreende ao apontar a necessidade de, antes de temperar, coá-la com peneira, o que não era comum na prática de minha família, na cidade. É também comum que na roça usem banha de porco, ao invés de óleo. “Com banha é mais gostoso”, explica Dalila (moradora da área rural de Pirinópolis). A massa é dividida em duas bacias, uma de doce e outra de sal, a última permitindo maior variedade de combinações: à moda (mais apimentada e com linguiça), com ou sem tempero verde, com jiló, “e tem com pequi também”, lembra Darc. Segundo ela, é corriqueiro que a pamonhada seja acompanhada por um molho de frango caipira, feito separadamente.
A próxima etapa, com participação majoritária das mulheres, consiste em amarrar as pamonhas. Aqui entram as palhas selecionadas, de algumas são feitos copinhos para guardar a massa, outras são encaixadas para fechá-los, depois de recheadas de queijo (este também de produção caseira) e demais recheios de preferência. São então amarradas com liguinhas de pamonha (pequenos elásticos apropriados para esse uso), que podem diferenciar os tipos de sabor por cores diferentes. Pode-se também usar uma tirinha da palha amarrada para indicar algum sabor, duas para indicar outro. Antes do uso das liguinhas, era comum, para amarrar as pamonhas, o uso de cordone.

Colocadas no caldeirão assim que amarradas, resta esperar que cozinhem. Algumas mulheres ajudam a organizar e limpar e, depois de horas em pé, finalmente se sentam. A recompensa por todo o trabalho se inicia pelo cheiro particular que invade o ambiente, até que se escuta um “TÁ PRONTO!”, dando fim à preparação em uma quente comilança coletiva. Logo que são retiradas da água, começam a servir-se, e tão logo é descoberto de que é cada pamonha, é consumida “pelando”, evitando o perigo de que esfriem instantaneamente.
Entre campo e cidade
Na cidade, a pamonhada é programada, geralmente, pelos familiares que moram em casa, de preferência com área ou quintal, não pelos que residem em apartamento. A coletividade exigida na produção da pamonha, simbólica das práticas rurais (CANDIDO, 1987), se faz presente na cidade em contexto de intensa individualização e de “ansiedade urbana contemporânea em relação à alimentação” (MENASCHE, 2010). O trabalho demandado para se chegar ao produto final requer cooperação, junto aos anfitriões, dos convidados, principalmente das convidadas.

Os ingredientes utilizados nesse contexto são indicativos da mobilidade de elementos entre campo e cidade. O queijo usado como recheio é comprado na feira mais próxima. Segundo Divino (65 anos, morador de Goiânia), “tem que ser o queijo fresco, né? Porque tem o curado, que é pra ralar, e tem esse mais molim, fresco, bom pra pamonha”. Assim como no campo, há citadinos que preferem usar banha de porco, que é extraída de toucinho e reservada. Mas outros optam pelo óleo, seja por facilidade de acesso, estranheza em relação à banha ou mesmo pela escolha por não consumir produto de origem animal. A mão de mi também é comprada em local específico, podendo ser com ou sem a palha. “Com a palha é mais barato, mas cê não vê se o milho tá bão ou não. Não tá compensando, vem muito estragado, ou cristal, aí não rende. Bom é ele granado, rende mais” (Sônia, 51 anos, moradora de Goiânia, esposa de Divino). Sônia explica ainda que há a opção de comprar, no mesmo local ou na feira, a massa já extraída do milho. No entanto, é comprada apenas quando a pamonha é preparada para menor número de pessoas, geralmente para os moradores e esposo e esposa, filhas e/ou filhos e, quando muito, genros e/ou noras.
É através da pamonhada com toda a família – tios(as), irmãos(ãs), cunhados(as), filhos(as), sobrinhos(as), noras, genros, netos(as), avós – que observamos mais claramente a mobilidade simbólica entre o rural e o urbano. Nessa ocasião, os processos são mais intensamente diferenciados por gênero, mas também por faixa etária. No descascar, o homem guarda o facão, os demais, os mais novos e as mulheres tiram a palha e limpam, as crianças limpam, mas, muitas vezes, não são consideradas confiáveis na seleção das palhas. A partir da etapa de ralar, que já se aproxima do cozimento, até a última etapa de limpeza das louças e do espaço utilizado, as mulheres adultas são, quase exclusivamente, responsáveis. Elas seguem colaborando e proseando. No rapar, crianças e jovens são excluídos, já que experiência e técnicas são exigidas para se extrair o máximo de caldo e fazer render.
O trabalho coletivo realizado na cidade é, portanto, estruturado seguindo diferentes processos e técnicas, dividido segundo gênero, faixa etária e papeis sociais. Mas, assim como na roça, corresponde a uma prática de socialização de âmbito essencialmente familiar, composta por etapas de preparação do milho motivadas não só pelo resultado, mas pelo processo em si. A celebração não procede ao trabalho, ela se faz através do e durante o trabalho. Quando todos já se encontram de barriga cheia, pode ocorrer de haver muitas pamonhas restantes. Nesse caso, nas despedidas, a dona e o dono da casa insistem para que alguns levem, ou para comer depois, ou para alguém que não pode vir. No café da manhã, há quem goste dela mesmo fria, outros a requentam.
Referências
CANDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1987.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Rev. Bras. Ci. Soc. [online], v. 17, n. 49, p.11-29, 2002.
MENASCHE, Renata. Campo e cidade, comida e imaginário: percepções do rural à mesa. Ruris, Campinas, v. 3, n. 2, p. 195-218, 2010.
PAULILO, Maria Ignez S. O peso do trabalho leve. Ciência Hoje, v. 5, n. 28, p. 64-70, 1987.
* Amanda Christianine Costa Batista é graduanda em Antropologia (linha de formação em Antropologia Social e Cultural) pela Universidade Federal de Pelotas.